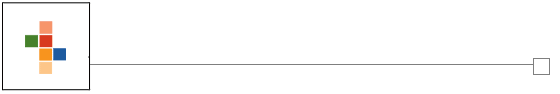
A família , a constituição
do sujeito e o futuro da Humanidade
Autores: Ileno Izídio da
Costa, (UnB)
"A FAMÍLIA, A
CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO E O FUTURO DA HUMANIDADE"
Prof. Ileno Izídio da Costa
Resumo
Este artigo pretende problematizar
a família em seu papel essencial na constituição da
subjetividade do ser humano a partir dos paradigmas
psicanalítico, sistêmico e da teoria da complexidade. Para
tanto, é necessário interligar a família, a cultura, o espaço
de interação cotidiano e temporal bem assim suas raízes
históricas e inconscientes presentes na base desta
constituição. Objetiva-se apresentar idéias básicas de
origens psicanalítica (dinâmica, diacrônica, tais como a
escolha do objeto, o eu familiar e a interfantasmatização) e
sistêmica (funcionais, sincrônicas, tais como as noções de
sistema aberto, subsistemas, homeostase, fronteiras, hierarquia,
papéis, segredos e mitos, dentre outros) como forma de ensejar
uma compreensão mais conseqüente do fenômeno primeiro da
subjetividade humana: a família.
Sem perder de vista as
transformações ocorridas na família no último século,
apresentar-se-ão idéias sobre as mudança na interação
familiar e suas conseqüências nas estruturação da saúde e
das patologias do homem moderno e nas projeções do homem
futuro. Buscar-se-á evidenciar a família enquanto instituição
e meio - eficaz e contraditório - de compreensão para a
solução e dispersão de velhos e novos problemas humanos.
PALAVRAS-CHAVES: Família,
Subjetividade, Futuro
Abstracts
This article intends to query the
essential role of the family in the constitution of the human
being subjectivity from the psychoanalytical, systemic and of
theory of complexity paradigms. It is necessary to link the
family, the culture, the daily interaction space, time,
historical and unconscious roots in the base of this
constitution. It intends to present the basic psychoanalytic
(dynamics, dyacronic, such as the choice of the object, the self
family and the interfantasmatization) and systemic (functional,
synchronous (such as the notions of open system, subsystem,
homeostasis, borders, hierarchy, papers, secrets and myths) ideas
as a way to more consequent understanding of the first phenomenon
of the human subjectivity: the family. Under the transformations
of the family in the last century, it will be presented ideas
about the changing of the family interaction and its consequences
in structuring of the health in the modern man's pathologies and
in the future man's projections. It will be evidenced that the
family while institution and relationship - effective and
contradictory - is the best plecae for the solution and
dispersion of new and old human problems.
KEY-WORDS: Family, Subjectivity,
Future.
Este artigo pretende problematizar
a "família" em seu papel essencial na constituição
da subjetividade do ser humano a partir dos paradigmas
psicanalítico, sistêmico e da teoria da complexidade. Para
tanto, é necessário interligar a família, a cultura, o espaço
de interação cotidiano e temporal, bem assim suas raízes
históricas e inconscientes presentes na base desta
constituição. De pronto, coloca-se o termo "família"
entre aspas para questionar mais adiante se existe(m) família(s)
ou "forma(s) de se relacionar que nos dá (ão) sentido de
intimidade, de subjetividade, de ser algo no mundo". Ao
final, procurar-se-á articular a família, seus atuais
desenvolvimentos, o sujeito e um futuro possível entre ambos.
1. Tentando definir o que é
família
A despeito da dificuldade teórica
em definir a família enquanto entidade específica de abordagem,
algumas discussões nas áreas da sociologia, antropologia e
psicologia podem nos auxiliar a iniciar esta discussão.
Alerta-se que não se pretende esgotar o assunto, mas antes
inaugurá-lo.
Segundo André Michel (1983), o
estudo da família nos anos setenta era quase que
exclusivamente especialidade de demógrafos (estudavam a
função reprodutiva da família), economistas
(investigavam o consumo nos lares), etnólogos (descreviam
as estruturas de parentesco), juristas (as leis relativas
às famílias) e sociólogos (discutiam o funcionamento
das famílias). Afirma que a abordagem sociológica predominante
das famílias (a empiricista), nascida em reação às teorias
mais antigas, incrementou-se nos EUA, URSS e países do Leste
utilizando-se de 3 métodos básicos: experimentação
(Strauss & Tallman, 1966 e Blood & Wolfe, 1960), investigação,
em três gerações, das mudanças sociais e familiares (R.
Hill et al., 1970) e estudos longitudinais (N. Berkeleu,
1928; Hill,1964).
As teorias mais antigas
sobre a família, de características hipotético-comparativas e
históricas, datam do final do século XIX e início do XX, foram
particularmente desenvolvidas por Lewis Morgan (1871), Friederich
Engels (1887), Westermack, Emile Durkheim, Marcel Mauss (1947),
Ferdinand Tonies (1887) e até mesmo Sigmund Freud (1913).
Diversos autores atribuem a Lewis
H. Morgan (1871), antropólogo e jurista norte-americano,
fundador da antropologia moderna, o mérito de ter sublinhado a
influência da sociedade na forma e na estrutura da família e a
distinção entre formas diferentes e evolutivas de famílias.
Enumerou seis estágios de desenvolvimentoda família: a)
inicialmente predominava o estado selvagem com o "comércio
sexual sem obstáculos"; b) depois, com cada homem
pertencendo a cada mulher, e inversamente; que, ao evoluir,
aparece a família consangüínea, fundada sobre o
intercasamento de irmãos e irmãs, carnais e colaterais, no
interior de um grupo; c) a família punaluana, baseada no
casamento de várias irmãs, carnais e colaterais, com os maridos
de cada uma das outras, no interior de um grupo; os maridos
comuns não eram necessariamente parentes de um grupo; d) a família
sindiásmica ou de casal, onde existia o casamento entre
casais individuais, mas sem obrigação de coabitação
exclusiva; o casamento prosseguia enquanto ambas as partes o
desejassem; e) a família patriarcal, fundada sobre o
casamento de um só homem com diversas mulheres, era geralmente
acompanhado pelo isolamento das mulheres, e f) a família
monogâmica, estribada no casamento de casais individuais,
com obrigação de coabitação exclusiva.
Óbviamente que esta teoria,
evolucionista por excelência e fruto de reflexões algo
metafísica, apenas introduziu a milenar questão da origem
primeira das famílias.
Friederich Engels (1887),
baseando-se na teoria de Morgan e no materialismo histórico,
analisou a família monogâmica e a propriedade privada
conjuntamente, motivado pela idéia de demolir a ideologia
burguesa anistórica. Engels postulou que "foi com a
família patriarcal e a família individual, contemporâneas do
desenvolvimento da propriedade privada, que a direção do lar
perdeu o seu caráter público e se transformou em 'serviço
privado': a mulher tornou-se uma primeira serva, desviada da
participação na produção social... e a família individual
moderna fundou-se no escravagismo doméstico, reconhecido ou
dissimulado da mulher".
Por sua vez, Ferdinand Tonies
(1887), pai da sociologia alemã, partiu da premissa "da
perfeita unidade das vontades humanas como estado originário e
natural", manifestadas sob múltiplas formas, em especial
sob 3 espécies de relação familiar: 1. na relação mãe-filho
(profundamente fundada sobre o puro instinto ou afeto); 2. na
relação entre homem e mulher como cônjuges (onde o instinto
sexual serve para poder assumir o caráter de relação duradoura
e de afirmação recíproca, na mútua habitação), e 3. entre
os que se reconheciam como irmãos e irmãs (onde não existe um
afeto tão originário e instintivo, nem um reconhecimento
recíproco tão natural).
Marcel Mauss (1947) fez
notar que a "família conjugal" de fato existe
em toda parte: os indivíduos sabem sempre qual é o seu
verdadeiro pai, qual a sua verdadeira mãe, que distinguem ainda
depois de sua morte; as relações de afeto, e outras, são
sempre mais estreitas entre pais e filhos verdadeiros".
Assim pensando, este autor distingue a família conjugal de
fato da família de direito.
Na linha das teorias da
reconstrução histórico-hipotética dos agrupamentos humanos,
Sigmund Freud (1913), em seu trabalho "Totem e
Tabu", descreveu a cena de um banquete totêmico de um
clã que mata cruelmente o seu animal-totem (pai) e o devora cru.
Depois do fato consumado, o animal morto é lamentado e
pranteado, embora desencadeie a festa dos instintos e a admissão
de qualquer satisfação, principalmente do desejo sexual pela
mãe ou irmã, numa solene violação da proibição. E conclui
que "a psicanálise revelou que o animal totêmico é, na
realidade, um substituto do pai e isto entra em acordo com o fato
contraditório de que, embora a morte do animal seja em regra
proibida, sua matança, no entanto, é uma ocasião festiva
— com o fato de que ele é morto e, entretanto, pranteado. A
atitude emocional ambivalente, que até hoje caracteriza o
complexo-pai em nossos filhos e com tanta freqüência persiste
na vida adulta, parece estender-se ao animal totêmico em sua
capacidade de substituto do pai."
Talcot Parsons (1970),
sociólogo, fez uma análise da família norte-americana
examinando a terminologia do parentesco como guia da estrutura
social. Definiu-a como um "sistema aberto, multilinear e
conjugal". A família conjugal seria composta por pais e
filhos, e a eles se atem a palavra "família",
reservando o termo "parente" para todos os
outros membros ligados pela condição de parentesco. A
definição "conjugal" tem como base o "tabu
do incesto", o que determina portanto a busca de um
cônjuge fora do grupo familiar.
Ralph Linton (1970),
antropólogo inglês, assinalou que o termo família se aplica a
duas unidades sociais basicamente diferentes: a "família
conjugal", composta pelos cônjuges e descendentes, e
"família consangüínea" ao grupo difuso e
pouco organizado de parentes consangüíneos.
Por sua vez, Radcliffe-Brown
(1978), antropólogo inglês, centrou sua discussão na natureza
do parentesco, denominando "família elementar"
como o conjunto formado por um homem, sua esposa e filhos ou
filhas. Desta feita, a "família elementar" tem
três tipos de relações sociais: a) de 1a. ordem: que se dão
entre pais e filhos ou entre os filhos dos mesmos pais; ou entre
marido e mulher enquanto pais dos mesmos filhos; b) de 2a. ordem:
aquelas que a família elementar tem por meio de um membro comum
com outra família elementar - o irmão da mãe, o irmão do
marido, a irmã da mulher; e c) de 3a. ordem: que se tem por meio
do filho do irmão do pai, a mulher do irmão da mãe.
O renomado antropólogo Claude Levi-Strauss
(1982) assinala que a estrutura elementar do parentesco
inclui três tipos de relações familiares: 1) a relação de consaguinidade
(entre irmão e irmã); 2) a relação de aliança
(entre marido e mulher) e 3) a relação de filiação
(entre progenitor e filho).
Articulando suas formulações com
a questão da estrutura inconsciente, Levi-Straus chega a uma
definição do grupo familiar como sendo "um sistema
relacional entre duas famílias, assentada na proibição do
incesto como regra reguladora do intercâmbio do grupo que, para
renovar-se, precisa da aliança heterossexual", sendo o
casamento somente um dos múltiplos aspectos da troca entre
grupos humanos que podem contrair aliança graças a essa regra
da exogamia.
Mais especificamente, em seu texto
"A família", Levy Strauss (1972), define que a palavra
família serviria para "designar um grupo social
possuidor de, pelo menos, três características: (1) tem sua
origem no casamento; (2) é constituído
pelo marido, pela esposa e pelos filhos provenientes de sua
união, conquanto seja lícito conceber que outros parentes
possam encontrar o seu lugar próximo ao núcleo do grupo; (3) os
membros da família estão unidos entre si por (a) laços
legais, (b) direitos e obrigações
econômicas, religiosas ou de outra espécie, (c) um
entrelaçamento definido de direitos e proibições
sexuais, e uma quantidade variada e diversificada de
sentimentos psicológicos, tais como amor, afeto, respeito,
medo", dentre outros.
No âmbito da Psicologia Social,
Lyman C. Wynne (1980) definiu a unidade familiar como
aquela que inclui pais e filhos. Esta definição, exclusivamente
operacional, estava baseada nas propostas do programa de
investigação sobre as famílias de pacientes esquizofrênicos
do "National Institute of Mental Health".
Pragmaticamente, esta definição serviu ao intuito da
operacionalização imediata, buscando pesquisar a resolução do
conflito familiar manifesto.
Don D. Jackson (1968)
definiu "família" como "uma rede interatuante de
comunicações, na qual todos os membros, do bebê de dias de
idade até o avô de 70 anos, influenciam a natureza de todo o
sistema e são, por sua vez, influenciados por estes."
Jay Haley (1971), um dos
fundadores da terapia familiar, afirmou que "a família é
um tipo especial de sistema, por possuir uma história, isto é,
um passado e um futuro. Não podemos, portanto, restringir a
família aos relacionamentos consangüíneos.
Virgínia Satir, a
assistente social precursora do movimento de terapia familiar nos
EUA, em 1967, definiu família "como um grupo composto por
adultos de ambos os sexos, que vivem sob o mesmo teto e têm um
relacionamento sexual socialmente aceitável. O grupo é mantido
unido por funções que se reforçam mutuamente e que incluem as
necessidades sexuais e procriativas, assim como a transmissão de
valores culturais, especialmente o de ensinar os filhos a
desenvolverem maturidade emocional. Seu objetivo é a criação,
sustento e direcionamento de seus membros".
Nathan Ackerman (1958),
psiquiatra e precursor da terapia familiar norte-americana,
caracterizou a família como um organismo composto da fusão dos
fatores biológicos, psicológicos, sociais e econômicos.
"Biologicamente, a família serve para perpetuar a espécie.
É a unidade básica da sociedade. Psicologicamente, os membros
estão ligados por mútua interdependência para a satisfação
de suas respectivas necessidades afetivas. Economicamente, eles
estão ligados por mútua interdependência para assegurar
necessidades materiais. Socialmente, a família tem as funções
de assegurar a sobrevivência física e construir a humanidade
essencial do homem".
Murray Bowen (1971), um dos
teóricos seminais da terapia familiar, entendeu a família como
"uma entidade complexa, constituída por uma série de
sistemas e subsistemas entrelaçados. Basicamente, é um sistema
de relacionamento emocional cujas raízes podem ser encontradas
na natureza biológica do homem. Além disso, para entender
determinada família nuclear, é necessário trazer à
superfície a família que a originou". Perguntado sobre o
que é família, certa feita, Bowen afirmou: a "família é
tudo"!
Segundo Isidoro Berenstein
(1984), autor argentino de orientação psicanalítica, a
família é "um sistema com uma estrutura inconsciente",
baseando-se portanto numa concepção oposta à memória, com
significação não registrada na consciência. Desse modo, a
estrutura inconsciente familiar corresponde a "um modelo no
qual combinam-se os membros, de acordo com um projeto, geralmente
eficaz e que tem prescrições de um estado ao outro da estrutura
e que não passa pela consciência dos integrantes... ou que não
é considerado como determinante da estrutura atual.
Analía Kornblit (1984),
discutindo o mesmo construto psicodinâmico, enfatizou que
estrutura é "uma entidade autônoma de relações internas,
constituídas em hierarquias". A estrutura familiar, assim,
caracterizar-se-ia pela combinação de três funções: a
materna ou continente, tal como desenvolvida por Bion et al; a
paterna, que garante a ruptura da díade mãe-filho, facilitando
ao segundo o acesso à ordem simbólica; e a filial, que
concretiza as possibilidades geradoras-criadoras dos pais,
garantindo a continuidade do grupo específico e social.
Diante de toda esta discussão, e
não à sua revelia, desenvolveu-se a área específica de estudo
e compreensão sistêmica da realidade familiar como um novo
paradigma, em especial o questionamento epistemológico da época
em que se estudava a Teoria dos Jogos, dos Tipos Lógicos, da
Comunicação e Geral dos Sistemas. Esta evolução
epistemológica permitiu, por exemplo, que conceitos como o de
sistemas e suas configurações pudessem ser incluídas na
discussão científica, aprimorando e acrescentando elementos
fundamentais à compreensão do fenômeno família.
Em 1965, Ludwig Von-Bertallanffy
introduziu a noção de sistema nas ciências e inaugurou
as condições para o desenvolvimento de uma teoria que pudesse
dar uma compreensão ampla sobre a realidade, em especial sobre a
família. Bertalanffy (1968) definiu sistema como sendo "o
conjunto de elementos colocados em interação", não sendo
constituído portanto por partes independentes, mas, antes, por
partes interdependentes, o que constitui uma unidade ampla,
inteira. As ações e comportamentos de um dos membros
influenciam e simultaneamente são influenciados pelos
comportamentos de todos os outros".
Os primeiros conceitos da cibernética,
tais como globalidade, não somatividade, retroalimentação ou
feed-back e eqüifinalidade, além de morfogênese/morfostase,
auto-poiesis, dentre outos, vieram dar à discussão da realidade
familiar, enquanto sistema, não só um caráter epistemológico
específico, que não o conhecido e desgastado modelo linear, mas
também uma dimensão teórica e terapêutica mais ampla nesta
discussão particular.
2. Sobre a complexidade do
tema
A despeito de tantas (ou
tentativas de) definições, ressalta-se a incompletude de todas
elas. Muitas falam de aspectos específicos da relação
familiar, outras de características gerais. Nenhuma, portanto,
é globalizante. Sabemos, hoje, porque: o fenômeno chamado
família é uma das grandes manifestações da complexidade
humana e, como tal, definições atualmente limitadas não podem
abarcar o fenômeno como um todo. A teoria sistêmica no entanto
procura avançar no sentido desta complexidade.
Edgar Morin (1991), um dos
precursores do estudo da complexidade, afirma que "a
complexidade é uma palavra problema e não uma palavra
solução". Assim, "a complexidade aparece
certamente onde o pensamento simplificador falha, mas
integra nela tudo o que põe ordem, clareza, distinção,
precisão no conhecimento. Enquanto o pensamento simplificador
desintegra a complexidade do real, o pensamento complexo integra
o mais possível os modos simplificadores de pensar, mas recusa
as consequencias mutiladoras, redutoras, unidimensionais e,
finalmente, ilusórias de uma simplificação que se toma pelo
reflexo do que há de real na realidade."
E continua: "A ambição do
pensamento complexo é dar conta das articulações entre
domínios disciplinares, que são quebrados pelo pensamento
disjuntivo; este isola o que ele separa e oculta tudo o que o
liga, interage, interfere. Neste sentido o pensamento complexo
aspira ao conhecimento muti-dimensional. Mas sabe que o
conhecimento completo é impossível: um dos axiomas da
complexidade é a impossibilidade, mesmo em teoria, de uma
omnisciência."
Afirmando que "vivemos sob o
império dos princípios de disjunção, de redução e de
abstração", cujo conjunto denominou de "paradigma
simplificador", Morin chega a uma contundente
definição da "inteligência cega": aquela
"que destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os
objetos à sua volta; não pode conceber o elo inseparável entre
o observador e a coisa observada; onde as realidades chaves são
desintegradas e passam entre as fendas que separam as
disciplinas." E conclui: "enquanto a mídia produz o
baixo cretinismo, a Universidade produz o alto cretinismo. A
metodologia dominante produz um obscurantismo acrescido, uma vez
que já não há associação entre os elementos disjuntivos do
saber, já não há possibilidade de os reunir e de refletir
sobre eles."
O que seria então a complexidade?
Morin responde: "À primeira vista, a complexidade é um
tecido (complexus: o que é tecido em conjunto) de
constituintes heterogêneos inseparávelmente associados. A
complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações,
interações, retroações, determinações, acasos, que
constituem nosso mundo fenomenal. Então a complexidade
apresenta-se com os traços inquietantes da confusão, do
inextrincável, da desordem, da ambiguidade, da
incerteza..."
Não há, portanto, como abarcar a
complexidade das relações íntimas familiares em algumas poucas
definições, em especial hoje quando está cada vez maior a gama
de relações familiares bem como de transformações que este
tipo de vínculo vem sofrendo.
3. Uma tentativa de
complexificação
Se nos valermos de dois dos
grandes sistemas psicológicos e terapêuticos atuais, a
psicanálise e a teoria sistêmica, poderemos detalhar um pouco
mais este tipo de vínculo chamado família. Situo a
"família" como sendo o encontro de dois eixos
fundamentais: o sincrônico, que fala do aqui-e-agora, do
modo de funcionamento concreto, imediato e lida com a dimensão
consciente da relação; e o diacrônico, dinâmico,
histórico, aprofundado e mais voltado para o funcionamento
inconsciente.
Alberto Eiguer (1985), teórico
francês de grupo e de família de orientação psicanalítica,
nos ajuda a detalhar o eixo diacrônico quando, em seu
livro "Um divã para a família", descreve os
três organizadores fundamentas do relacionamento familiar, a
saber:
a escolha do objeto, que consiste na escolha inconsciente do parceiro conjugal com base nas experiências edípicas. E esclarece: "pelo jogo duplo do amor intenso e incestuoso e sua proibição, a família prepara o sujeito para investir num outro vínculo, que dará origem a uma nova família... O objeto inconsciente de um se entrecruza com o objeto inconsciente do outro e os dois objetos acumulados inauguram um mundo objetal compartilhado, "reunião" nova que adota uma dimensão organizadora".
Jürg Willi, outro teórico (vienense) de orientação psicanalítica, cunhou o termo colusão para denominar o "jogo inconsciente dos parceiros". A colusão, portanto, é a dinâmica emocional e relacional que se estabelece a partir da escolha inconsciente que engendra um jogo particular de gratificações ou não, a partir das experiências infantis, especialmente do édipo, conforme Eiguer também salienta. Eiguer chega a detalhar pelo menos três tipos de escolha objetal que, por motivos de concisão, apenas citarei: edípica, anaclítica e narcisista.. Já Willi fala em colusão narcísica, oral, anal, fálica e genital, sendo fiel aos estágios de desenvolvimento pulsional descritos por Freud.
o eu familiar: "investimento perceptual de cada membro da família, que lhe permite reconhecê-la como sua, numa continuidade têmporo-espacial". Este organizador é composto de "sub-organizadores", a saber: sentimento de pertença ou "familiaridade", habitat interior e os ideais do ego;
a interfantamatização: "ponto de encontro dos fantasmas individuais de cada membro, fantasmas próximos por seu conteúdo. Desejos convergentes, jogo combinatório que é mais que uma adição pura e simples, esta interfantasmatização inconsciente inspira a atividade fantasmática consciente, isto é, a criação de um espaço transicional de intercâmbios, de humor, de criatividade, de relatos referentes à própria história de cada um e dos ancestrais".
Quanto ao eixo sincrônico
quem nos ajudar a entender a complexidade desta dimensão
familiar é a teoria sistêmica. Por limitações, apresentaria
este eixo com a tentativa de definir família incluindo os
diversos conceitos que as diferentes abordagens sistêmicas da
família desenvolveram:
Um sistema aberto (aberto na medida em que caracteriza um fluxo contínuo de material componente, que, no caso da família, se expressa na troca de relações com outros sistemas: famílias extensas, escolas, empregos, grupos religiosos, enfim com a sociedade);
constituído de subsistemas ou holons (partículas ou partes). Na família existem os subsistemas a) individual que, segundo Minuchin (1990), incorpora o conceito de Self no contexto e inclui os determinantes pessoais e históricos (fala especificamente de cada indivíduo na relação), b) conjugal (relações homem-mulher), cuja tarefa básica é o desenvolvimento de limites que protege os esposos, dando-lhes uma área de satisfação de suas próprias necessidades psicológicas sem a intrusão de outros indivíduos, c) parental (este homem e esta mulher enquanto pai e mãe), cujas transações envolvem a educação dos filhos e funções de socialização conjugada ao subsistema filial (as crianças enquanto filhos daqueles pais), cada um com tarefas específicas, e d) fraterno (os filhos enquanto irmãos entre si), onde desenvolvem seus próprios padrões transacionais para negociação, cooperação e competição;
caracterizado por um estado interno relativamente constante ou auto-equilibrado que se mantém pela autorregulação (homeostase) que não significa estagnação, mas antes reflete as transformações em seus padrões de interação;
e composto por hierarquia, fronteiras ou limites, regras, papéis e comunicação;
articulados em sua essência pelos segredos e mitos;
além de estar, sistêmicamente ligado aos macrosistemas (social, econômico, político, universal, e, quiçá, espiritual).
Volto a enfatizar que a
"família" concreta, real, imediata, e ao mesmo tempo
inconsciente e histórica, deve ser entendida na confluência
destes dois eixos.
Não poderia de deixar de
enfatizar a contribuição da teoria transgeracional, como um dos
exemplos de confluência teórica e prática entre as teorias
psicanalítica e sistêmica.
Os fenômenos transgeracionais
foram estudados particularmente por Murray Bowen (1978), Ivan
Boszomenyi-Nagy (1973) e Helm Stierlin (1970), todos terapeutas
familiares. Básicamente, estes autores defendem que a família
produz e reproduz, simbólica e biológicamente, os conteúdos
essenciais da existência humana.
Conceitos tais como delegação
("missão encomendada"), legado ("repasse não
cumprido desta missão") e processo de projeção familiar
("processo de projetar nos filhos aquilo que não foi
resolvido ou aceito a nível da(s) geração(ções)
anterior(es)") explicitam a passagem de conteúdos
emocionais e simbólicos para as gerações seguintes. E
pretendem dar contexto mais amplo, transgeracional, à formação
da sociedade, da família e dos sujeitos.
Desenvolvimentos atuais da teoria
sistêmica tem contribuído para complexificar este fenômeno,
tais como o construtivismo e construcionismo social. Do ponto de
vista da "família", concordando com Hoffman (1990)
afirmaria que "o problema cria um 'sistema'". Ou
seja, a família se estrutura e se torna realidade objetiva a
partir das problematizações que se desenvolvem em seu ciclo de
vida. A "família" se estrutura (cria um sistema de
funcionamento) em torno de como as diferentes etapas de seu
desenvolvimento vão se estabelecendo. Se incluirmos aqui, para
desespero dos teóricos puristas, os organizadores inconscientes
familiar, teremos que estes criam problemas específicos e
engendradores de relações múltiplas.
Do ponto de vista construtivista,
diria que a "família" se organiza e funciona em torno
de problematizações. A idéia principal aqui é a de que não
há uma crença na realidade objetiva a priori, mas em uma
realidade co-construída. Conforme enfatiza Seixas (1992),
"esta posição epistemológica privilegia a operação
ativa de construção que o sujeito faz do que será seu
"universo", ao mesmo tempo que emerge como sujeito no
mesmo processo de construção".
Isto posto, podemos afirmar que
"cada família é uma família" na medida em que cria
seus problemas particulares e estrutura suas formas específicas
de lidar uns com os outros, com suas próprias percepções sobre
este universo e com o mundo externo, concreto, além de seus
vínculos. Ouso dizer que não existe a "família"
enquanto conceito único e globalizador, como as definições
sociológicas, antropológicas e mesmo psicólogicas pretenderam
em décadas anteriores. Afirmo, assim, que não existem
"famílias", mas configurações vinculares íntimas
que dão sentimento de pertença, habitat, ideais, escolhas,
fantasmas, limites, papéis, regras e modos de comunicar que
podem (ou não) se diferenciar das demais relações sociais do
indivíduo humano no mundo. Está lançada aqui a base para a
reflexão sobre o futuro da humanidade, conforme adiante
esboçado.
Para além da tentativa,
excessivamente moralizadora, de definir a família enquanto
padrão único para que se possa analisar e até julgar as
demais, havemos de evoluir para a consideração particular de
cada tipo de configuração vincular íntima, do tipo familiar,
como única e detentora de suas especificidades.
4. A "família" e
a constituição da subjetividade humana
Muito se tem falado da
individualidade, inclusive de seu culto, da subjetividade e suas
problemáticas particulares. Desnecessário dizer que a família
é o locus privilegiado da constituição da subjetividade
humana. Tomando como base a definição, mesmo que dicionarista,
de que a subjetividade é relativo ao sujeito ou existente no
sujeito, a família é definidora, norteadora e contenedora da
história subjetiva do indivíduo.
Dora Schnitman (1996) defende que
"tanto a ciência quanto a cultura são processos construtores
de e construídos por processos sociais. E continua:
"A ciência, os processos culturais e a subjetividade humana
estão socialmente construídos, recursivamente interconectados:
constituem um sistema aberto. Precisamente, destas interfaces, de
suas contextualizações e conflitos surgem aquelas
configurações científico-culturais complexas que conformam e
caracterizam o espírito que atravessa uma época. Sem dúvida,
essas configurações transversais são mutidimensionais; não
são nem homogêneas nem estáticas, e sim apresentam
polarizações antinômicas e densidade diversas"...
"Distinções tradicionais como as de sujeito-objeto, as
barreiras disciplinares entre as ciências, a ciência e a
filosofia, não só aludem a objetos que não podem ser estudados
sem participação dos observadores/autores, como são
construções sociais levadas a cabo por uma sociedade
científico-cultural e, portanto, podem e devem ser interrogadas
e eventualmente questionadas".
Freud (1930), no texto "O
Mal-estar na civilização", Freud contempla a família
ao escrever: "... três fontes de que nosso sofrimento
provém: o poder superior da natureza, a fragilidade de nossos
próprios corpos e a inadequação das regras que procuram
ajustar os relacionamentos mútuos dos serem humanos na família,
no Estado e na sociedade. E acrescenta: "... Quanto
à terceira fonte, a fonte social do sofrimento, nossa atitude é
diferente. Não a admitimos de modo algum; não poderemos
perceber por que os regulamentos estabelecidos por nós mesmos
não representam, ao contrário, proteção e benefício para
cada um de nós. Contudo, quando consideramos o quanto fomos mal
sucedidos exatamente neste campo de prevenção do sofrimento,
surge em nós a suspeita de que também aqui é possível jazer,
por trás deste fato, uma parcela da natureza inconquistável
– dessa vez, uma parcela de nossa própria constituição
psíquica" (1974:105).
Aqui, portanto, focalizo o mal
estar e a conseqüente construção da (angustiante)
subjetividade humana: na família.
E Freud continua, afirmando que a "incompatibilidade
entre amor e civilização parece inevitável e sua razão não
é imediatamente reconhecível. Expressa-se a princípio como um
conflito entre a família e a comunidade maior a que o indivíduo
pertence. Já percebemos que um dos principais esforços da
civilização é reunir as pessoas em grandes unidades. Mas a
família não abandona o indivíduo. Quanto mais estreitamente os
membros de uma família se achem mutuamente ligados, com mais
freqüência tendem a se apartarem dos outros e mais difícil
lhes é ingressar no círculo mais amplo da cidade" (1974:124/5).
Em termos gerais diria que
compartilho das definições de sujeito e subjetividade
elaboradas por Ogden (1996): "Embora nenhuma palavra possa
conter em si a multiplicidade, ambiguidade e especificidade de
sentido necessárias, o termo sujeito parece
particularmente adequado para transmitir a concepção
psicanalítica do ‘eu’ que experencia, tanto num
sentido fenomenológico quanto metapsicológico. O termo está
etmológicamente ligado à palavra subjetividade e traz em
si uma reflexividade semântica inerente, ou seja, denota
simultaneamente sujeito e objeto, eu e isso, eu e mim. A palavra sujeito
se refere tanto ao "eu" como quem fala, pensa, escreve,
lê, percebe, etc., quanto ao objeto da subjetividade... Assim
sendo, o sujeito nunca pode estar totalmente separado do objeto
e, portanto, nunca pode estar inteiramente centrado nele
mesmo".
Por coerência teórica, creio ser
importante afirmar que a angústia humana é a mola fundamental e
propulsora da subjetivação/subjetividade do ser humano... O que
situa esta discussão (angústia/subjetivação/subjetividade) da
gestação à morte do sujeito! Angústia, portanto, que perpassa
o relacionamento familiar.
Com estas passagens, enfatizaria
que a construção (ou constituição) da subjetividade humana
tem duas vertentes (mínimas) hoje indispensáveis: o
inconsciente e o relacional. Assim, nossos desejos, medos,
capacidade (ou não) de amar, manter-se vivo e em equilíbrio (ou
não) são parte inconteste das configurações vinculares do
tipo familiar.
5. Família, sujeito e o
futuro da humanidade
Dito tudo isto, creio que podemos
questionar a "família", ou a configuração vincular
do tipo familiar, em suas funções e características
tradicionais ou básicas. Tomarei as definições de Virgínia
Satir e de Nathan Ackerman, citadas na introdução deste
trabalho, ambas dos anos setenta, para uma reflexão maior vez
que guardam ressonâncias nas definições "comuns" de
família, além de participarem, como tal, de nosso imaginário
geral até hoje.
Satir define, inicialmente, que
"família" é "um grupo composto por adultos de
ambos os sexos". De pronto, dois questionamentos: 1. este
grupo, que chamaria de tipo de configuração vincular, hoje não
mais conta adultos de ambos os sexos. Hoje, muitas das formas de
relacionamento familiar são composta por um só dos pais
(monoparentais), particularmente a mãe. São as famílias de
mães (ou pais) solteiros, cônjuges abandonados, separados ou
viúvos; 2. Se a definição acima privilegia a procriação ou o
intercurso sexual que gera filhos, hoje temos um fenômeno
recente, que cresce em quantidade e interesse, que são as
"famílias homossexuais", que redefiniria como "os
relacionamentos vinculares entre pessoas de mesmo sexo com desejo
de construírem um modo familiar de se relacionar"; assim, a
obrigatoriedade de adultos de ambos os sexos pode ser descartada
seja pela adoção, seja pela fecundação in vitro. Sem falar,
dos homossexuais que se casam, separam, assumem sua opção
sexual e se mantém nos papéis parentais (de pai e mãe).
A segunda parte da definição
também é hoje curiosa: "que vivem sob o mesmo teto".
A obrigatoriedade de "convivência sob o mesmo teto"
como condição para definição de família não é mais
exclusiva ou a regra. São inúmeros os casais separados que
exercem a (complexa) função parental, sem no entanto
coabitarem. Este modelo monogâmico e conjugal sofreu e ainda
está sofrendo contundentes transformações. São inúmeros os
casais (e família) que vivem em casas separadas e tem filhos em
comum. Além do que hoje está em franco crescimento as famílias
e casais recasados, com filhos do relacionamento anterior e
atual, numa tentativa complexa de construir um relacionamento ou
uma configuração vincular que lhes dê sentido de
intimidade, pertinência e diferenciação.
A terceira parte, além de
tradicional, como já foi dito acima sobre "adultos de ambos
os sexos", tem um caráter normatizador e até moral:
"têm um relacionamento sexual socialmente aceitável".
Aqui o parâmetro passa a ser o da heterossexualidade (redução
do indivíduo à sua opção e prática sexual) e da
"normalidade", "socialmente aceita". As
transformações sociais (tais como os hippies nos anos sessenta,
a revolução sexual e o feminismo), em especial as de gênero e
as sexuais em si, já bombarderam esta condição de definição
de família.
"Que incluem as necessidades
sexuais e procriativas", continua a definição. Com a
desvinculação das "necessidades sexuais" da
"procriação", em especial do desejo e do prazer
independente da função geradora, nem a prática sexual nem a
procriação são mais condições exclusivas de organização de
relações familiares.
Novamente a definição de Satir
apresenta, a meu ver, uma construção que não a diferencia de
outros agrupamentos ou configurações vinculares: a
"transmissão de valores culturais, especialmente o de
ensinar os filhos a desenvolverem maturidade emocional".
Creio que podemos afirmar que tanto a transmissão de valores
quanto o desenvolvimento da maturidade emocional, seja no nível
funcional (saúde) ou disfuncional (patologia), hoje estão
diluídos em diferentes agrupamentos sociais: amigos, escolas,
famílias "escolhidas emocionalmente" (diferente da
biológica), instituições, identificações com grupos
musicais, religiosos, culturais, etc.
No termo seguinte também persiste
uma construção que não é particular do relacionamento
familiar: "seu objetivo é a criação, sustento e
direcionamento de seus membros". Hoje, muitas instituições
sociais tentam ou herdam a função de criação, sustento e
direcionamento dos indivíduos humanos. A família, tal como a
vimos definindo e esperando que cumpra papel específico, não
só vem perdendo determinadas prioridades de estruturação
humana como vem se revelando incapaz, em determinados casos, de
estruturar uma humanidade possível, longe das atrocidades e
desvios atuais.
A definição de Ackerman, por sua
vez, incorre nas, hoje, mesmas imprecisões (pelo menos
conceituais). No sentido estritamente biológico, em continuidade
ao argumento apresentado sobre a definição de Satir, não há
mais a necessidade de uma família para se promover a existência
ou a continuidade da espécie. Os avanços da genética e da
inseminação artificial por si sós são, hoje, capazes de
garantir a existência humana.
Quanto a ser "a unidade
básica da sociedade", hoje em especial, esta
característica está diluída nas diferentes e complexas
características de ser "unidade básica da construção
emocional do ser humano", na "unidade básica da
construção de sentido de existir", e na "unidade
básica de uma humanidade possível".
Os demais termos da definição
("psicologicamente: ligados por mútua interdependência
para a satisfação de suas respectivas necessidades afetivas;
economicamente: ligados por mútua interdependência para
assegurar necessidades materiais; socialmente: assegurar a
sobrevivência física e construir a humanidade essencial do
homem") creio já estarem discutidos anteriormente.
Gostaria, finalmente, de expressar
alguns entendimentos que, creio, expressam as transformações,
mudanças e perspectivas sobre a configuração vincular chamada
família.
Entendo que família, seja em que
nível de configuração vincular existir abrange algumas
características, a saber: repetição e continuidade,
construção dos afetos e das emoções humanas (da saúde à
patologia), sentimento de pertinência, de "eu" e de
existência,sentido de intimidade, pertinência e
diferenciação.
Assim, podemos afirmar que está
em curso uma diluição dos papéis clássicos da famílias em
diferentes configurações relacionais humano, sejam em novas
formas de ser família, seja com a substituição dos vínculos
familiares por outros vínculos sociais (amigos, adotivos,
trabalho, cultura, novas organizações relacionais etc) que dão
sentido e pertinência ao subjetivo do ser humano.
Sem querer ser contudente ou
catastrófico, como o foram Cooper, Laing e Hoffman, dentre
outros, diria que não existe "a família" enquanto
conceito único, universal, aplicável a todas as manifestações
vinculares do tipo familiar. A "família", seja ela
qual for, tenha a configuração que tiver, é, e será, o meio
relacional básico para as relações com o mundo,
da norma à transgressão dela, da saúde à patologia, do amor
ao ódio.
Assim, diria que deve prevalecer a
tendência de que a família não é uma "relação
obrigatória", mas antes uma dentre outras possibilidades
que dão sentido ao "ser humano". Atitudes
psicologistas, sociologistas, moralistas e legistas não são
capazes de abarcar a complexidade destaa estruturação possível
a partir das múltiplas configurações vinculares humanas, da
família real aos amigos, da adotada à que se queria.
A meu ver, as transformações da
"família" e, em conseqüência do ser humano, apontam
para a necessidade de reorganização do direcionamento afetivo
dos sujeitos humanos para diferentes e complexos sistemas de
relacionamento. O que significa dizer que deverá haver um maior
intercâmbio relacional humano, com aumento das experiências
possíveis de subjetividade, bem assim uma intensificação da
busca de satisfação, do prazer e da evolução em outras
configurações vinculares.
Para tanto, creio, teremos que
trilhar o caminho, necessário, da diluição dos preconceitos e
dos valores rigidificados, tradicionalistas, para que o ser
humano possa exercitar suas complexas capacidades ainda não
exploradas em face das limitações, repressões, construções
de desvio e patologias que acabam por não corresponder ao seu
anseio de sua própria felicidade.
Em minha opinião isto significa,
também, trilhar o caminho da desalienação da capacidade de
amar, ou de outra forma, do exercício de amar em
multi-vínculos, até que se conclua que o amor, por princípio
primeiro, deva ser exercido onde se aprende a evoluir emocional,
pessoal e até espiritualmente.
Conclui-se, portanto, que a
"família", tal como hoje é concebida, conceituada e
aceita, é um meio - eficaz e contraditório - de compreensão
para a solução e dispersão de velhos e novos problemas
humanos.
Poder-se-ia questionar ainda os
conceitos de casamento, vínculos consangüíneos, de aliança
e de filiação como definidores do que seja
"família". Mas, por concisão, apenas apontaria que
todos eles estão sobre "intenso bombardeio relacional e
social", perdendo, por conseqüência, a força supostamente
efetiva para definir o que seja "família". Somente
ilustrando, poderia afirmar que: "casar não
significa ser família"; ter laços consangüíneos
não significa sentir-se "parte da família"; os laços
de aliança são, hoje, questionáveis, e os laços de
filiação dependem muito mais de uma construção conjunta
do que uma condição a priori. Aliás, todos eles dependem de
uma co-construção!
O futuro, dizem, a Deus pertence.
Mas é só refletirmos como nos organizamos, sofremos e nos
relacionarmos para que possamos, senão prever, pelo menos
antever, nossos desenvolvimentos. Atentemos menos para o conceito
de "família" e estejamos mais preparados para suas
transformações, diversidades vinculares e suas possibilidades
de construção do crescimento humano.
6. Bibliografia
ACKERMAN, N. W. (1986). Diagnóstico
e tratamento das relações familiares. Ed. Artes
Médicas Sul, RS.
BATESON, G. et al (1980). Interacción
familiar. Ediciones Buenos Aires, Argentina.
BERENSTEIN, I. (1984). Familia
e enfermedad mental. Editorial Paidós, Argentina.
BERTALANFFY, L. Von (1977). Teoria
Geral dos Sistemas. 3ª Ed. Ed. Vozes,
RJ.
BOSZORMENYI-NAGY, I. & SPARK,
G. (1973). Invisible Loyalties. Harper &
Row Ed, New York, USA.
BOWEN, M. (1989). La terapia
familiar en la practica clinica. Vols. I e II. Editorial
Desclée de Brouwer, Bilbao. Espanha.
BUCHER, J. S. N. F. (1985). Mitos,
segredos e ritos na família. Psicologia:
Teoria e Pesquisa, 1(2);110/17. Universidade de
Brasília, DF.
COSTA, I. I. (1990). A crise
psicótica do filho e a disfunção familiar. Revista
Família*-Temas de Terapia Familiar e Ciências Sociais da
Fundação Projeto Diferente de Fortaleza.CE.
__________. (1990). Família
e psicose: um estudo transgeracional. Dissertação de
mestrado não publicada. Brasília, DF.
__________. (1998). As
doenças do amor relacional. Trabalho inédito
apresentado no III Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, Rio
de Janeiro.
__________. (inédito). Família
e psicose: teoria, pesquisa e clínica. Brasília, DF.
EIGUER, A . (1985). Um divã
para a família. Ed. Artes Médicas Sul, RS.
FREUD, S. (1960/80). Mal
estar na civilização. Edição Standard Brasileira das
Obras Psicológicas Completas. Ed. Imago, SP.
___________________. Totem e
tabu. Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas. Ed. Imago, SP.
GOOLISHIAN, H. & WINDERMAN, L.
(1989). Construtivismo, auto poiesis y sistemas
determinados pelo problema. Sistemas Familiares,
Dez, pg. 19/29..
HOFFMAN, L. (1990). Una
posición construtivista para la terapia familiar. In
Sistemas Familiares, pg. 29/44, Buenos Aires, Argentina.
KAËS, R. (1986). Las
organizaciones psíquicos del grupo. Revista de Psicologia
y Psicoterapia de Grupo, XII, 3-4.
LEVY STRAUSS, C. (1982). As
estruturas elementares do parentesco. Ed. Vozes, RJ.
_________________. (1972). A
família. In Homem, Cultura e Sociedade, Harry L.
Shapiro, Fundo de Cultura, RJ.
MALDAVSKY, D. 91993). Processos
e estruturas vinculares. Ed. Artes Médicas Sul, RS.
MIERMONT, J. (1994). Dicionário
de terapias familiares. Ed. Artes Médicas Sul, RS.
MINUCHIN, S. (1984). Família,
funcionamento e tratamento. Ed. Artes Médicas Sul, RS.
MORIN, E. (1991). Introdução
ao pensamento complexo. Instituto Piaget, Lisboa,
Portugal.
OGDEN, T. (1996). Os
sujeitos da psicanálise. Casa do Psicólogo Liv. e Ed.
Ltda., SP.
SCHNITMAN, D. F. (Org, 1996). Novos
paradigmas, cultura e subjetividade. Ed. Artes Médicas
Sul, RS.
SEIXAS, M. R. D' A. (1992). Sociodrama
familiar sistêmico. Ed. ALEPH, SP.
STIERLIN, H.; RÜCKER-EMBDEN, I.;
WETZEL, N. & WIRSCHING, M. (1981). Terapia de familia. La
primeira entrevista. Gedisa S/A . Barcelona, Espanha.